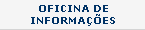O tema de abertura do fascículo 4 da segunda edição do Retrato do Brasil
AS CLASSES DO FIM DA HISTÓRIA |
O debate sobre as classes sociais, o tema da abertura do quarto fascículo da segunda edição do Retrato do Brasil, teve um desenvolvimento unilateral nos últimos anos do século 20. Até o final dos anos 1980, a visível divisão do mundo em duas zonas em conflito ideológico aberto, a capitalista e a socialista, era acompanhada de um debate intenso igualmente polarizado entre duas posições:
• a dos que defendiam que a história se faz por indivíduos que, empenhados cada um na legítima defesa de seus interesses são o fundamento da promoção do bem-estar social;
• e a dos que defendiam que o motor da história era a luta de classes sociais, o conflito entre grupos de indivíduos de posições muito distintas na estrutura das sociedades, posições estas basicamente determinadas por relações de produção, como as que, no capitalismo, distinguem os proprietários dos meios de produção, os burgueses, dos que não têm os meios de produção e, nesse sistema, dominado pela compra e venda de mercadorias, vendem a única mercadoria de que dispõem, sua força de trabalho.
A mudança nos termos do debate foi causada pelo aparente “fim da história”, aquilo que alguns teóricos viram como a vitória definitiva das idéias liberais, cujas provas mais espetaculares seriam a Queda do Muro de Berlim, de 1989, e o desmantelamento da URSS, em 1991.
O fascículo do Retrato do Brasil parte de uma posição diferente da que se tornou majoritária recentemente com o surto neoliberal: considera prematuro descartar o debate e o estudo das classes e das camadas sociais. Mesmo Friedrich Hayek, que pode ser considerado o pai moderno das doutrinas liberais, considerava mal sustentadas essas idéias, do ponto de vista teórico. Hayek foi um dos campeões do liberalismo: organizou em 1944, na Suíça, o encontro que uniu intelectuais militantes dessa doutrina e a relançou, embora ela tenha ficado incubada por mais de três décadas, antes de ressurgir como neoliberalismo. Para ele, no entanto, a evolução do pensamento liberal clássico desembocara numa encruzilhada, que era a teoria de que os indivíduos poderiam ser igualados a átomos, cujo comportamento aparentemente aleatório acaba produzindo resultados concretos, mensuráveis. Hayek dizia que, a partir dessa hipótese, os liberais acabariam aderindo aos fundamentos do campo oposto: se os indivíduos podem ser igualados a átomos, se são iguais, onde está a chama liberal do individualismo, a virtude decorrente de cada ser humano ser, evidentemente, distinto um do outro?
Outro argumento contra o encerramento prematuro do debate das classes sociais é a precipitação de considerar que o socialismo acabou. É evidente que já não há mais uma economia socialista formada por nações com relações de produção interna e de comércio entre si totalmente separadas das que se regem pelas leis de mercado do bloco capitalista.
As relações de mercado praticamente se estenderam por todo o mundo, com o desmoronamento do bloco soviético. Mas é absolutamente impreciso do ponto de vista teórico igualar completamente às européias e à dos EUA sociedades como a Índia e a China, por exemplo, que, a despeito de também terem economias basicamente reguladas pelas leis do mercado, têm enormes diferenças sociais. A China, por exemplo, não só se considera um país com quatro classes e camadas sociais com papel dirigente no desenvolvimento – o proletariado, o campesinato, a burguesia nacional e a intelectualidade progressista – como mantém um enorme aparato produtivo estatal, cerca de 150 mil empresas onde se destacam diversas tão poderosas quanto a brasileira Petrobrás.
No Brasil, evidentemente, a situação é diversa. Mesmo o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, um proletário que foi torneiro-mecânico, hoje se define mais como o profissional do torno do que como o socialista que muitos imaginavam que ele fosse. Mas, esse esforço de diminuir o significado político das relações sociais não impede que o estudo das classes no País tenha um grande significado. É difícil entender como o Brasil mudou no final do século 20 sem ver que:
• As relações capitalistas de produção se generalizaram no campo brasileiro, transformando, por exemplo, os latifundiários em arrendatários de terra para os capitalistas e praticamente eliminando as categorias de meeiros e rendeiros que pagavam em espécie pelo direito de produzir na grande propriedade de estilo feudal;
• A categoria de autônomos e empregados de empresas familiares – que muitos procuraram saudar como a ascensão do empreendorismo e dos valores individuais no Brasil e também em outros países do mundo – aqui, nitidamente, disfarça relações de trabalho precárias, que escondem o assalariamento e a divisão básica entre proletários e proprietários dos meios de produção.
• A inserção subordinada da economia brasileira ao capitalismo global agravou as distinções : 1) entre os proprietários: uns pouquíssimos, uma minoria que se pode estimar em 0,01% da população que realmente detêm o poder; 2) e também entre a camada média superior, onde teria se destacado o que alguns teóricos estimam entre 8% a 10% da população hoje completamente vinculada àquilo que se chamava antigamente e que ainda hoje, talvez, com propriedade, se deva chamar de a classe dominante.
|
|