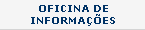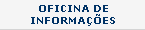|
O início do mandato de Fernando Henrique Cardoso como presidente do Brasil, em 1995, foi marcado por duas crises. A primeira, uma corrida que ameaçou quebrar o real, a nova moeda brasileira que ele lançara quando Ministro da Fazenda, no governo anterior. A segunda, uma crise agrícola aguda, que terminou com uma marcha de proprietários rurais sobre Brasília. Os dois acontecimentos estão intimamente ligados e dizem muito para os que querem entender o papel da agricultura brasileira neste final de milênio, quando por todos os cantos se ouve falar na globalização da economia, na quebra das barreiras nacionais e na necessidade de adaptar o país aos novos tempos em andamento. Para compreender as duas crises e suas razões é preciso voltar no tempo, um ano antes; e olhar para o centro do sistema capitalista, para os Estados Unidos.
No início de 1994, pressionados pelas suas enormes necessidades de atrair capitais para rolar a dívida do governo - superior a 5 trilhões de dólares -, os americanos começaram a elevar suas taxas de juros. Os juros subiram seis vezes ao longo do ano e provocaram perturbações violentas no movimento de capitais pelo mundo. Em dezembro, depois de Terçacumulado grandes déficits nas suas relações comerciais e financeiras com o exterior, e diante da fuga dos capitais em busca dos juros mais altos da economia central, o México ficou sem reservas para honrar seus compromissos externos e quebrou. Foi um tombo espetacular. Fundos de investimento, bancos e emprestadores diversos se viram de repente na perspectiva de afundar junto com os mexicanos. A possibilidade de um desastre financeiro internacional - uma quebra em cadeia nos mercados financeiros globais, totalmente interligados - exigiu pronta intervenção, no mais alto nível. O presidente do Federal Reserve, o banco central americano, e o próprio presidente dos EUA, Bill Clinton, passaram um fim de semana articulando uma operação que raspou reservas de emergência das principais nações capitalistas e despejou 50 bilhões de dólares no buraco aberto pela falência mexicana.
Fernando Henrique começou a governar em 1995, à sombra desse desastre. O seu plano econômico era semelhante ao mexicano num aspecto crucial: a dependência do financiamento por capitais externos O Brasil fechara o ano de 1994 com um surpreendente rombo no seu comércio exterior. Por mais de uma década - desde o 'ajuste' promovido ao final do Regime Militar, para exportar mais e pagar a dívida externa -, mantivera exportações elevadas e importações baixas, que lhe garantiam um saldo comercial entre 10 e 15 bilhões de dólares todos os anos. Mas as políticas cambial e monetária adotadas a partir da implantação do real, em julho de 1994, combinadas com o sistema de abertura das fronteiras do país às mercadorias estrangeiras, que vinha já do início dos anos 90, inverteram dramaticamente essa situação. As exportações continuaram como antes, crescendo lentamente. Mas o país foi inundado por produtos do exterior. O saldo negativo na balança comercial no fim do ano deixara os investidores em sobressalto. Pouco depois, em março, houve três dias de pânico: esses investidores promoveram uma corrida em direção ao Banco Central, tentando fugir do país com seus dólares - trocaram mais de 10 bilhões de reais pela divisa americana, temerosos diante de uma possível desvalorização da nova moeda.
A segunda crise foi em agosto, quando milhares de proprietários rurais organizaram uma marcha de protesto sobre Brasília. E sua causa foi exatamente a solução adotada pelo governo Fernando Henrique para a crise anterior: para manter os capitais estrangeiros aplicados no país, o Banco Central elevara os juros, que já não eram baixos, a níveis estratosféricos - mais de 40 por cento de juros reais ao ano, praticamente o dobro da taxa anterior. A agricultura já tinha pago um preço enorme por ter sido um dos pilares de sustentação do novo plano monetário brasileiro. A safra recorde de 1994/95 colocara os preços num patamar baixo. A política adotada a partir de julho de 94 - juros altos, grandes importações e desova de estoques oficiais para manter, a todo custo, os preços da cesta básica rebaixados - atingira duramente os produtores rurais. A elevação dramática dos juros, a partir de março de 95, foi uma espécie de golpe de misericórdia. Centenas de milhares de produtores quebraram. Suas dívidas em atraso se elevaram a cerca de 10 bilhões de reais.
O presidente recebeu os líderes da marcha alguns dias depois. E teve com um deles, Mário Bertani, gaúcho de Espumoso e presidente da Centralsul, uma conversa curiosa. Disse-lhe que fábricas de carburadores de São Paulo estavam quebrando e que ele não podia fazer nada para evitar o fato. Em função do progresso técnico, explicou, os novos carros estavam sendo feitos sem carburador, com ignição eletrônica. As fábricas antigas não estavam sendo abandonadas por ele, mas pela história. "É inexorável", Fernando Henrique declarou. Bertani entendeu a insinuação. E reagiu rápido: "Está bem, presidente. Quando não se usar mais comida, o senhor pode deixar a agricultura quebrar".
Nessa época de globalização e triunfo do mercado, é moda argumentar que o abastecimento de produtos agrícolas de um país deixou de ser um objetivo nacional prioritário, a ser perseguido por uma política estatal que garanta, internamente, e mesmo nas condições mais adversas possíveis, a alimentação do povo. Supõe-se que esse abastecimento poderia ser modernizado e globalizado, algo na linha do que já se pratica em certos setores na indústria, com o just-in-time. Certas linhas de montagem industriais não trabalham mais com grandes estoques dos componentes que utilizam: estes são comprados o mais tarde possível - just-in-time, na hora certa -, a semanas, no máximo dias, e às vezes até horas do instante em que são necessários, às vezes em países diferentes.
O mesmo deveria ocorrer com o suprimento alimentar de um país. Seria um erro buscar a auto-suficiência na produção de alimentos. Primeiro, porque a agricultura que deveria servir de modelo para a brasileira seria a de tipo americano, altamente tecnificada e com baixíssima ocupação de mão-de-obra. Para ser auto-suficiente nesse tipo de agricultura, só com auto-suficiência na produção de uma cadeia enorme de insumos agrícolas: energia, fertilizantes, pesticidas, sementes, produtos veterinários, alimentos para animais, máquinas, equipamentos de manutenção etc., coisa impensável para o Brasil. Segundo, porque muitos dos alimentos podem ser adquiridos a preços mais baixos em regiões que têm vantagens naturais para produzi-los. Seria também um equívoco financiar a formação de grandes estoques para a segurança alimentar do país: os mercados estão abertos e os produtos podem ser adquiridos just-in-time. Em vez de proteger esse ou aquele setor com subsídios e leis especiais, a tarefa básica do Estado - parece dizer o presidente Fernando Henrique Cardoso de modo prático, com a política do real - é dar prioridade máxima à estabilidade monetária baseada na abertura do país e no apoio dos capitais internacionais. Com uma moeda estável e o Brasil inserido na economia global, o dinheiro compra o que for preciso, onde estiver mais barato, na hora certa. É como fazem as grandes corporações globais que não estocam peças, nem metais, mas dinheiro em moeda. Uma moeda assim - forte e esperta -, enquanto espera a hora de ser aplicada na produção, não fica parada como os sacos dos estoques de arroz, milho, trigo ou batata: circula pelos mercados financeiros globais, em busca das melhores aplicações. Quais os problemas dessa concepção baseada no sonho do livre comércio e na ação desimpedida das forças vivas do mercado? São, pelo menos, quatro:
1. Ela supõe que o Plano Real será um sucesso a longo prazo, que o Brasil conseguiu uma moeda forte, capaz de comprar alimentos, sempre que necessário, onde quer que eles estejam. A realidade, entretanto, é bem diferente dessa fantasia.
2. Ela ignora que a superação do atraso histórico no desenvolvimento da agricultura brasileira depende de soluções políticas, e não de manipulações monetárias.
3. Ela acredita que o modelo agrícola just-in-time exista em algum lugar do mundo, o que é uma ilusão.
4. Ela ignora a crise no desenvolvimento tecnológico da agricultura. Essa crise abre perspectivas novas para o Brasil. E essas perspectivas têm sentido oposto ao recomendado pelos que vêem na financeirização a solução dos problemas do país.
Comecemos por este último ponto, pela tecnologia. Especialmente na última década, certas tendências se radicalizaram. Enormes avanços no campo da informática e das telecomunicações - setores que, fundidos, deram origem à área da telemática - contribuíram significativamente para essa radicalização. O progresso da telemática se dá com tal rapidez e tal influência que tem levado muita gente à conclusão de que uma revolução tecnológica está em andamento. A combinação de computadores em redes planetárias, transmitindo informações em volumes e velocidades inimagináveis há poucos anos, está mudando o mundo, reorganizando nações e sociedades. Para os mais deslumbrados, em combinação com o fim dos regimes de planejamento centralizado do Leste Europeu e do que eles simbolizavam - o socialismo -, as novas tecnologias parecem abrir perspectivas para uma nova era. Uma era em que a contradição entre capital e trabalho - que atormenta a humanidade há pelo menos duzentos anos - veio dar lugar à cooperação, ou à parceria, para utilizar um termo mais na moda, entre patrões e empregados.
É evidente que o mundo mudou. É claro que as mudanças são significativas. As novas tecnologias permitiram reorganizar, em certo grau, a produção de mercadorias. Permitiram que as empresas pudessem controlar a fabricação e a montagem final de componentes de seus produtos da forma mais refinada: em diferentes e distantes regiões ou países, aproveitando vantagens localizadas, como o baixo custo da mão-de-obra ou incentivos fiscais. Esse efeito milagroso - que, é bom lembrar, só pode existir, fundamentalmente, devido às concessões ditadas pela fragilidade política dos países e do movimento dos trabalhadores nos quais as empresas se instalam - se consegue tratando de maneira mais eficiente a informação. As grandes corporações multinacionais podem conhecer hoje, com muito maior rapidez e com mais detalhes, quantos pedidos de compra de seus produtos foram feitos a cada instante em praticamente qualquer parte do mundo. O que lhes permite rapidamente programar compras de matérias-primas e alocar a mão-de-obra necessária para a produção. Se os pedidos aumentam, compra-se mais matéria-prima, aloca-se mais mão-de-obra - de preferência, aumentando jornadas de trabalho, ou através de contratos temporários. Se a demanda diminui, reduz-se a compra de insumos e o emprego de força de trabalho - com a diminuição das jornadas extras, dos contratos temporários e, em última instância, com demissões. O tratamento das informações vai além da organização da produção. Também se aplica diretamente ao desenvolvimento e à fabricação dos produtos. O emprego de computadores e softwares poderosos no desenvolvimento de projetos e no controle de robôs e outras máquinas automatizadas, baseadas em circuitos eletrônicos e em programação sofisticada, é cada vez maior na indústria.
Não se pode, no entanto, confundir as possibilidades que as mudanças tecnológicas em curso levantam com as mudanças concretas que elas promovem nos diversos países e sobre as diferentes classes e camadas sociais. Primeiro, porque a contribuição da telemática na produção de bens e serviços é crescente, mas ainda limitada - as informações são apenas parte do processo de dar forma a materiais, para que eles sejam transformados em mercadoria. Há, além disso, a questão do transporte. A sistematização da informação ajuda. Mas o transporte tem de ser realizado fisicamente, através de um tipo de veículo: caminhão, avião ou navio. Todo o progresso da telemática não tornou possível, como nos seriados de ficção científica, o teletransporte, que desestrutura a matéria no local de origem, a envia, na forma de bits, através de ondas eletromagnéticas, e a reestrutura novamente no ponto de chegada.
Talvez os computadores associados em redes de comunicação possam desempenhar, um dia, o mesmo papel que as máquinas-ferramenta tiveram na primeira metade do século 19, ou as descobertas da química representaram no início deste século para a economia mundial e para a transformação das sociedades. Até agora, no entanto, isso é ainda uma esperança. Basta ver o que aconteceu com o ritmo do crescimento da produtividade do trabalho industrial - um dos grandes indicadores do progresso econômico capitalista - nas principais economias do mundo. Ao contrário do que se poderia imaginar, nos últimos vinte anos, quando se espalhou o uso de computadores e das telecomunicações em geral, apesar de todos os avanços técnicos, o ritmo do crescimento da produtividade é declinante. O crescimento médio da produtividade na indústria nos sete principais países capitalistas (França, Japão, Itália, Inglaterra, Alemanha, Canadá e EUA) caiu de 4,5 por cento ao ano no período 1960/73 para 1,5 por cento ao ano entre 1973 e 1995 (Gibbs, 1997, p. 66). O mais intrigante é que nos EUA, a meca do capitalismo, o capital investido em automação passou de cerca de 0,5 por cento do Produto Nacional Bruto em 1972, para quase 4 por cento em 1996.3 A idéia glamourosa de sociedades mediadas por telas de monitores em que cintilam informações puras convive com uma alarmante realidade: as principais economias mundiais crescem a ritmos medíocres. E sustentam taxas de desemprego, principalmente no caso da Europa, de tirar o sono dos governantes.
Michael Dertouzos, professor do Laboratório de Ciência da Computação do Massachussets Institute of Technology (MIT), um dos templos sagrados da tecnologia mundial, está entre os que se comportam de forma bem cautelosa em relação ao futuro. Dertouzos escreveu recentemente um trabalho ("What will Be") que trata do futuro da tecnologia da informação. É bom esclarecer que, em 1980, ele já falava de um 'mercado de informação', no qual se trocariam dados e serviços através de redes de computadores - uma descrição sintética do que se tornaria a Internet pouco mais de uma década mais tarde. O cientista rebate alguns mitos da chamada era da informação (in Leutwyler, 1997). Como, por exemplo, o que diz que a tecnologia irá reduzir a diferença entre ricos e pobres. "A diferença pode ser transposta, mas por meios apropriados", diz ele. "O mercado de informações não o fará". Dertouzos combate ainda a ansiedade provocada por estes tempos. "Nós estamos há quatro décadas nesse negócio e arduamente conquistamos alguma coisa. A segunda revolução industrial levou nove décadas. Por isso, relaxe", aconselha. "Eu espero que essa revolução se realize plenamente no final do século 21. Ela nos dará até 300 por cento de crescimento de produtividade no trabalho de escritório - o mesmo que a segunda revolução industrial nos deu'.
Se Dertouzos estiver certo, restam pela frente ainda uns bons cem anos para que se realize o sonho que muitos crêem estar vivendo hoje. Com certeza, o capital financeiro internacional tem papel destacado entre as forças que tentam convencer os povos de que o Mundo Novo já está à vista. O setor financeiro, de fato, parece haver pulado esse século de intervalo que Dertouzos aponta. Há muito a humanidade desenvolveu sistemas financeiros sofisticados. Desde então, existe um vínculo entre as finanças e a produção física de mercadorias. Hoje, contudo, há uma financeirização radical. Como se a produção física, propriamente dita, fosse apenas secundária: a posse de uma dada mercadoria é garantida em registros eletrônicos que estão num computador localizado num determinado ponto do globo, enquanto o comprador e o vendedor estão a milhares de quilômetros de distância entre si e a mercadoria, em algum outro local do planeta. Não importa em que local se produza uma mercadoria, ela pode ser transacionada eletronicamente. E, nessa forma virtual, sem sair do lugar, ela troca de dono (em várias partes do mundo) inúmeras vezes, em um tempo muito curto. Isto é particularmente verdadeiro com as commodities, tanto as matérias-primas industriais - metais, minérios -, como os alimentos, principalmente os grãos - trigo, soja, milho e arroz.
O controle da produção dessas commodities pelo capital financeiro ajuda a entender por que existe um desequilíbrio tão grande entre o mundo possível, imaginado a partir dos grandes avanços técnicos recentes, e o mundo real, especialmente dos países pobres ou em desenvolvimento. O trigo é empregado na alimentação humana em praticamente todo o mundo. Soja e milho são consumidos principalmente na alimentação de gado e de aves, especialmente nos países ricos. Ou seja, é proteína vegetal que vai ajudar a produzir proteína animal. Arroz é alimento básico de muitos dos povos, especialmente do Oriente, a região mais populosa do mundo. Ao longo dos anos 70 o mundo viveu o clímax da Revolução Verde, como ficou conhecido o conjunto de técnicas agrícolas desenvolvidas nos países ricos e muito utilizadas, na forma de 'pacotes', nos países da periferia do sistema. Ali, se imaginou, tal Revolução permitiria acabar com a fome.
Como qualquer um pode verificar - ao ver as cenas terríveis que ocorrem, por exemplo, entre as nações da África -, sob esse ponto de vista, ela fracassou. Não teve êxito sequer em países como o Brasil que, sob inúmeros aspectos (político, social e cultural), é muito menos turbulento que a grande maioria dos países africanos. Talvez o principal erro de acreditar que uma mudança técnica, como a da Revolução Verde, pudesse eliminar um problema social de magnitude tão ampla, como a fome mundial, tenha sido isolar a aplicação de técnicas da política. Como é sabido, a Revolução Verde foi desenvolvida no reduzido grupo das nações ricas, especialmente nos EUA. E, daí, exportada. Embora embalada com roupagem internacionalista, seu cerne é nacional - ou, no máximo, restritamente internacional. Não foi concebida, concretamente, para solucionar os problemas de alimentação específicos de cada país, ou de todos os países, mas dos países que a geraram, no que, aliás, foi bem-sucedida. Para cumprir a promessa de servir aos países mais pobres teria de ser combinada, em cada um desses locais em que foi aplicada, com políticas sociais e econômicas adequadas. O que, certamente, não ocorreu. Como se sabe há tempos, o problema da fome no mundo se deve mais à má distribuição de renda do que à falta global de alimentos. De acordo com a FAO, a produção global de alimentos se tornou mais de três vezes maior desde o início dos anos 50, enquanto a população pouco mais que dobrou no período (The Economist, 16 de novembro de 1996, p. 23). Isso significa que alimentos existem, em quantidade suficiente. Só que para as bocas dos mais ricos.
O expressivo aumento da produção de grãos nos países pobres, por exemplo, foi desviado, em boa parte, para a exportação, para abastecer os mercados do mundo desenvolvido. Premidos por dificuldades financeiras decorrentes, geralmente, de endividamento externo, os países subdesenvolvidos utilizaram sua produção de grãos para obter divisas. Eles haviam tomado empréstimos, de organismos financeiros ou de bancos, numa época em que o dólar se espalhava por todo o mundo. Os juros eram baixos e o dinheiro, fácil. A idéia básica era que, aplicando esses recursos em projetos de modernização da infra-estrutura e na indústria, nos anos seguintes teriam sua produtividade elevada e completariam o ciclo, pagando as dívidas. O que se viu, ao longo dos anos 80, quando os juros internacionais dispararam devido a ajustes da economia nos países ricos, comandados pelos EUA, foi que a fase final do ciclo, prevista para ser percorrida de forma relativamente suave, desandou. Forçados a ajustar sua economia para pagar juros do endividamento, os países subdesenvolvido tiveram na agricultura (já que a produção industrial é seu ponto fraco) uma das principais fontes de levantamento de recursos. Em suma, enviaram para o exterior boa parte de sua produção de alimentos (enquanto, invariavelmente, suas populações passavam fome) em troca de dólares, que a seguir entregaram aos bancos para pagar os juros.
Para tornar possível à agricultura desempenhar esse papel, foi preciso padronizar sua produção nos moldes do mundo rico.4 E é aí que a tecnologia teve de ser desenvolvida e aplicada, não de um modo neutro, supranacional e acima dos interesses das classes. Os Estados Unidos e os organismos financeiros mundiais incentivaram a criação de centros de pesquisa internacionais, que foram instalados em diferentes regiões do mundo. O Brasil, por exemplo, se integrou a esse esquema mais intensamente a partir do início dos anos 70. Mas, não para aumentar sua produção de feijão ou de mandioca, produtos que há séculos compõem a base da alimentação dos brasileiros. Pelo contrário, nos últimos trinta anos a produção desses alimentos declinou fortemente no país. Para levantar dólares e cumprir compromissos internacionais, o país teve de adotar uma política de incentivo à exportação de certos produtos agrícolas - os mais apreciados no exterior. Por isso, adotou a soja, que passou, juntamente com os tradicionais cana-de-açúcar e café, em companhia da laranja, a formar o quarteto de produtos agrícolas brasileiros de maior sucesso no exterior.
A Revolução Verde, foi, desse ponto de vista, o principal instrumento para realizar aquele objetivo. Ela se consolida a partir dos anos 60, mas principalmente na década de 70, numa combinação do uso da mecanização e dos 'pacotes'. 'Pacotes' nada mais são que séries de procedimentos e técnicas padronizados, utilizados de forma encadeada. O uso de uma semente melhorada, produzida por uma empresa especializada, exige o emprego de certos insumos específicos. São adubos, herbicidas e pesticidas que ajudam a desenvolver a planta e a combater ervas daninhas e insetos aos quais ela é suscetível. Os 'pacotes' passam por adaptações para se adequar ao ambiente de cada país. Dada a característica primordialmente biológica da agricultura, isso é inevitável. Sucessos como os obtidos pelo Brasil com a soja, por exemplo, só foram possíveis porque se formou no país uma forte estrutura de pesquisa e assistência técnica, que adaptou tecnologia originária do exterior às condições ambientais brasileiras. É claro que, de qualquer forma, apesar de todos os méritos que se possa creditar aos cientistas e técnicos brasileiros, no geral seu trabalho esbarrou quase sempre nos limites de uma adaptação. Em outras palavras: o país não adotou uma política de pesquisa e assistência técnica que tivesse como base, por exemplo, a produção de alimentos em abundância para acabar com a fome dos brasileiros. Ao contrário, a modernização da agricultura brasileira teve como objetivo básico e declarado a inserção do país no mercado internacional.5 Essa conclusão é de enorme relevância agora, quando está evidente o fracasso da Revolução Verde e quando se põe de pé um novo mito, o da modernização inexorável e benéfica para todos, com base na biotecnologia e nos microrganismos engenheirados.
NOTAS
1. Antes dessa crise, um real estava valendo quase 1,25 dólar. Imagine o caso de um investidor brasileiro que tivesse dólares nas ilhas Cayman (modelo de paraíso fiscal localizado no Caribe), e trouxesse o dinheiro para o Brasil no início do Plano Real, estando com 1 milhão de reais no país. Se transformasse os reais em dólar, na cotação de 1 real para 1,25 dólar, sairia com 1 milhão e 250 mil dólares. Se o Brasil desvalorizasse sua moeda para 1 real por 0,70 dólar, esse investidor com 1 milhão de reais sairia com apenas 700 mil dólares - ou seja, um prejuízo de 550 mil dólares em relação à situação de dias antes.
2. Segundo o economista da FEA/USP, Fernando Homem de Melo, a safra 94/95 tinha sido a maior da história brasileira, com 81,1 milhões de toneladas. As perdas dos agricultores podem ser medidas pelos seguintes dados: a elevação geral de preços entre julho de 94 e julho de 96 foi de 57,96 por cento; a elevação nos preços dos alimentos, no mesmo período, 37,04 por cento. Por produto, a queda nos preços, entre junho de 94 e julho de 95, em porcentagem: feijão, 48,4 por cento; milho, 34,2 por cento; soja, 37 por cento; algodão, 23,3 por cento; laranja, 9,6 por cento; arroz, 32,7 por cento; café, 34,3 por cento; bovino, 19,8 por cento; suíno, 19,2 por cento; frango, 24,7 por cento. Só a batata subiu: 71,4 por cento. A despeito da safra recorde de 95, a renda agrícola foi muito menor: o valor das vinte principais culturas caiu, de 37 bilhões em 1994, para 28 bilhões em 1995, uma queda de 24 por cento, decorrente dos baixos preços agrícolas no primeiro semestre de 1995 (O Estado de S. Paulo, 18 de outubro de 1995). Roberto Rodrigues, coordenador do Fórum Nacional da Agricultura no governo FHC, diz que - entre 1980 e 1996 - a área cultivada no Brasil caiu 2 por cento, a renda bruta da agricultura diminuiu 49 por cento, mas o volume físico de produção aumentou 34 por cento (Zero Hora, 11 de dezembro de 1996). De acordo com o ex-ministro da Agricultura, Alysson Paulinelli, a renda dos cinco principais produtos - arroz, milho, feijão, algodão e soja - representou em 94 uma receita de 28,4 bilhões. Em 95, a despeito de uma safra mais volumosa, essa receita caiu para 14,7 bilhões. Paralelamente à queda nos preços subiram os juros; no período que vai do plantio à comercialização a TR subiu 38 por cento (Gazeta Mercantil, 9 de novembro de 1995). Outra forma de ver as perdas, comparando o preço do boi no Rio Grande do Sul com o preço de um carro: em 93, um automóvel Quantum valia 8 mil reais, ou 23 bois de 500 quilos; no final de 96, valia 30 mil reais, ou 86 bois. As perdas pela desvalorização das propriedades: em função da crise agrícola, os preços da terra no interior de São Paulo despencaram em até 50 por cento, em meados de 95, e muita gente vendeu suas propriedades. No início do Real, houve uma valorização, em virtude da euforia. Na região de São José do Rio Preto, o corretor Atílio Benedini informou que o preço da terra, que era de 1.200 toneladas de cana (13.800 reais) por um alqueire (24 mil m2), chegou a 2.500 toneladas. Depois despencou: de 800 sacas de soja por alqueire para 200, na região do Paranapanema e de 4 mil reais o hectare em julho de 94 para 2 mil, em julho de 95, na região de São José do Rio Preto. Aguinaldo Consone, presidente do Sindicato Rural de Cândido Mota constata: "Hoje quem tem dinheiro compra tudo no interior. Carro, casa, trator, sítio e bicicleta" (Folha de S. Paulo, 31 de julho de 1996).
3. Idem, p. 66. O artigo discute em detalhes as possíveis relações da queda da produtividade com o aumento da automação nos EUA. Estima-se que o investimento das empresas americanas somente em hardware tenha alcançado 213 bilhões de dólares em 1996; adicionando-se os custos em software, a cifra vai a 500 bilhões de dólares. Em todo o mundo, teriam sido investidos mais de 1 trilhão de dólares, em 1996.
4. "[...] a deslocação mundial do capital (isto é, das relações de produção capitalistas) significou também - e é esse aspecto que se deseja mais uma vez evidenciar - a internacionalização das condições de produção e, por conseqüência, a tendência à homogeneização das técnicas produtivas. De fato, esses dois elementos são claramente perceptíveis nos ramos industriais mais importantes. Assim, por exemplo, nos mais diferentes países, sejam eles desenvolvidos ou subdesenvolvidos, utilizam-se no setor automobilístico praticamente as mesmas técnicas, e a organização do trabalho na linha de montagem apresenta, em geral, a mesma configuração. O mesmo poderia ser dito em relação a outros ramos industriais. [...] Contudo, esse fenômeno cada vez mais se estende a outros setores produtivos, na medida em que estes se integram à economia mundial constituída. Esse é, precisamente, o caso da chamada agricultura moderna dos países periféricos. '[...] São notáveis as proporções em que a moderna agroindústria na América Latina chegou a parecer-se com a dos Estados Unidos. Em ambas as regiões, as unidades de produção da agroindústria administradas por uma nascente burguesia agrária são cada vez mais semelhantes. No vale do Bajío, no México, no vale de Cauca, na Colômbia, e no vale de Salinas, na Califórnia, vimos plantadores de frutas e legumes que empregavam técnicas de produção semelhantes. Usavam as mesmas sementes híbridas, compravam os mesmos implementos agrícolas e aplicavam os mesmo adubos e pesticidas. Eram financiados pelos mesmos bancos e vendiam às mesmas empresas multinacionais. A burguesia agrária de cada um desses vales também estava absorvida em constantes conflitos trabalhistas, ao tentar conter os salários dos trabalhadores agrícolas e impedir que se formassem sindicatos efetivos. As mesmas semelhanças também são perceptíveis em outros tipos de produção agrícola. As novas fazendas de soja em grande escala no Brasil e na Argentina também se parecem com as fazendas de soja do Médio-Oeste e Sul dos Estados Unidos' (Burbach & Flynn, 1982, 16)." In Aguiar, 1986.
5. Aguiar (op. cit.) chama a atenção para a idéia, expressa no I Plano Nacional de Desenvolvimento, da época do Regime Militar, segundo a qual a condição essencial para o crescimento da economia nacional era sua integração à economia mundial. "'Duas características marcantes se observam na economia mundial do pós-guerra: 1) efeito da revolução tecnológica sobre o desenvolvimento industrial e o comércio internacional, com alteração também das posições de vantagens comparativas dos diferentes países; 2) expansão mais rápida do comércio internacional, transporte e movimento de capitais do que da produção interna, nas diferentes regiões (Brasil, 1971: 33).' As colocações acima não deixam dúvidas quanto à estratégia de vinculação da economia brasileira à divisão internacional do trabalho. Essa estratégia, por sinal, era inerente à própria política de modernização tecnológica. Constituía, de fato, sua própria natureza. Não é por acaso, pois, que essa estratégia se complementava de uma política voltada fortemente para a exportação. [...] A política de modernização preconizada pelo I PND, portanto, impunha a intervenção do Estado como instância que favorece a inserção da economia brasileira na economia internacional. Essa intervenção se manifestava, com clareza, através de dois movimentos simultâneos. De um lado, por uma política de ampla franquia ao ingresso de capitais estrangeiros, via as subsidiárias das empresas multinacionais. De outro, por uma política de 'produção para o exterior', exclusivamente destinada a esse mercado, não se tratando, assim, de escoamento de excedentes não absorvidos pelo mercado interno. Mas, ao mesmo tempo, a intervenção do Estado manifestava-se, também, através da ação repressiva, de forma a garantir, mediante a extorsão da força de trabalho operária e camponesa, os meios necessários à efetivação daquele processo de modernização".
|